Olhos verdes, boa viagem!

Por Carlos Paurílio
Esse conto foi publicado na Revista do Brasil de janeiro de 1941. Quem fez a apresentação foi Aurélio Buarque de Holanda, também alagoano e redator-secretário da publicação.
Saiba mais sobre Carlos Paurílio AQUI.
…
Apresentação de Aurélio Buarque de Holanda

Aurélio Buarque de Holanda em 1962
Um dia ele desejou lançar ao mar o coração para pescar poemas. Esse desejo, expresso numa das suas mais belas poesias, claro, é que não se realizou. Mas o poeta anda sempre a distribuir o coração, enorme, pelos versos e contos que lhe saem da pena. Ou, melhor, do lápis. Costuma escrever a lápis, em tiras estreitas, numa letra miúda e clara – sob medida, pelo menos quando faz contos: todos devem ter o mesmo número de linhas, de palavras, e, não raro, até de letras. É uma das curiosas mantas dessa figura estranha que é CARLOS PAURÍLIO, nas primeiras produções Carlos Silva.
Mania adquirida há cerca de 8 anos, sempre agravada, e que dá a impressão de um espirito chatamente metódico, de um sujeito de horários inflexíveis, passo cadenciado, e riso baixo, por educação e economia de força.
De tudo isso, no entanto, Carlos terá, tão somente, o riso baixo, um sorriso velado, que não é de requinte mas de sofrimento. Vida atormentada, a sua. De uma família de artistas, nasceu — em Maceió, nos começos deste século — com a vocação das letras.
Fez preparatórios, não sei se todos, no Lyceu Alagoano, e aí pelos 20 anos publicou Reflexos, poemas quase parnasianos. Sua poesia adquiriu depois, dentro de moldes menos rígidos, uma feição penumbrista, que não desapareceu com a adesão de Carlos ao modernismo.
É esse — o da penumbra — o verdadeiro caminho do poeta, o indicado pelo feitio de sua sensibilidade. Sua obra em geral — verso ou prosa — é toda ela banhada de uma doce meia-luz. Nada de gestos arrebatados, gritos de entusiasmo ou desespero: a alegria — quando surge — é discreta, como se temesse suscetibilizar os tristes; a tristeza, que é a nota habitual, chega sempre receosa, humilde, gemendo em surdina a sua desolação.
Carlos Paurílio também é autor de Solidão, volume de contos, donde é tirado o “Olhos verdes, boa viagem!“, e da novela A Idade dos Passos Perdidos.
Numa de suas habituais noites de boemia perdeu os originais de outro livro de contos, Sarampo, se não me engano. Contou-me o fato com uma serenidade de quem se acostumou a perder coisas mais sérias na vida.
Escreve muito, apesar de já trêmula a mão. Deixa extravasar talvez diariamente, em novelas e poemas, a maré viva de uma sensibilidade das mais vibráteis que já conheci. Escreve-os em qualquer parte — na banca de revisor (durante algum tempo exerceu essa função na Imprensa Oficial), na mesa de um botequim — a Porta da Chuva, a Lua Branca, o Buraco do Galo, a Gruta Bahiana, do preto Zé Othelo, perito no vatapá — e até, às vezes, em casa.
Fazendo versos ou contos, é sempre o poeta. Seus contos — num estilo sem audácias, de sobriedade quase ascética — a bem dizer não têm história, ou são, tão eles, a mesma história de um incompreendido, de um tímido, de um enfermo, de um enteado, de um namorado infeliz, de um destino mutilado, de uma vida em pedaços — pedaços donde por vezes escorre sangue. — . A. B. de H.
…
Olhos verdes, boa viagem!

Carlos Paurílio
Em vez de dobrar, seguiu reto. Sabia que o itinerário ficava mais comprido, porém já estava habituado. Até era uma nova maneira de passear, quando ia a caminho do escritório.
Adiante, quase estacou, assustado. Alvos crepes adejavam, pendurados a todas as janelas daquela casa: partida de alguém para o céu. Continuou andando, devagar, reparando. Viu um caixãozinho branco no meio da sala. Seria uma criança? Talvez fosse ela…
Distanciou-se da casa, com as pernas difíceis de arrastar, pesando. Estava indignado consigo próprio, com a sua timidez que lhe proibia ver tudo claro, que punha um nevoeiro em quase todos os casos de sua vida. Por que não parou para olhar melhor? Era angustiante ir para o escritório com essa dúvida.
*
Talvez fosse ela… Era linda com o seu rosto oval e pálido, surgindo entre os cabelos louros e lisos, como uma lua. Tão branca! Tão triste! Quem sabe se não teria noivo embarcado e perdido, ou mesmo algum mal sem cura!
Ele a queria muito. Não era namoro. Outrem é quem fica à esquina, horas a fio, ou passeia, para cá e para lá, em frente à janela da namorada, incomodando os vizinhos. Ele não. Demorava sempre em casa com os seus livros. À noite, trancado no quarto, escondido como se estivesse a cometer algum crime hediondo, escrevia, fazia versos. Se o patrão soubesse! Era um homem gordo e vermelho. Um dia, enfurecido, amarfanhou um jornal, só porque trazia um soneto logo na primeira página.
Nosso rapaz não era como esses, cheios de audácias, que se aproximam imediatamente das moças, sem cerimônias, e dizem-lhes palavras ternas, apertam-lhes as mãos trêmulas, beijam-lhes os cabelos e os olhos. Ele não era assim. Seu único desejo era vê-la à janela, quando passava, na ida ou de volta do escritório. Apenas, um contemplativo em tudo.
Felizmente não tinha sonhos impossíveis. Não se enganava com o pensamento de que os dois se pudessem encontrar de mãos dadas algum dia. Mesmo, a palidez da moça lhe dava susto, como se já estivesse querendo a uma defunta.
A moça nem ao menos lhe sorria. Lembrava-se de que uma vez ela olhou longamente para ele, mas dir-se-ia que não o via, que mirava coisas longínquas… Sentiu até vexame em aprofundar aqueles olhos que brilhavam docemente como de luz refletida; eram dum verde opaco como o de certas águas paradas.
De noite, sob a lâmpada amiga, fremindo, inspirado, fez umas quadrinhas que intitulou: “Olhos verdes, bom dia!”, e que não publicaria nunca, por causa do chefe. Só se fosse com pseudônimo.
*
Chegou ao escritório. Ia extraindo faturas e ao mesmo tempo querendo convencer-se de que o caixão era pequenino demais para ela, que ali só podia mesmo caber uma criança. Mas a incerteza persistia, e, o que era pior, ainda lhe fazia errar as faturas.
Começou a olhar insistentemente o relógio. (Era tão despreocupado das horas, antes!) Os ponteiros pareciam pregados num lugar fixo, como se fossem de chumbo e não tivessem força bastante para se mover.
O enterro devia ser às quatro horas mais ou menos. Inventaria uma mentira, pediria ao patrão para sair antes do tempo regulamentar.
Finalmente, soaram as quatro. Perdeu ainda uma porção de minutos, indeciso em falar ao chefe. Como era a primeira vez que desejava sair cedo, foi atendido. Disparou para a rua, quase correndo, sem medo de atropelar os outros. Ele que era tão prevenido em andar sempre encolhido, roçando as paredes, parando a cada passo para dar passagem a transeuntes mais apressados. Mas, agora, dir-se-ia que a sua grande timidez compreendia a pressa de sua própria ansiedade. E essa pressa, esse arrojo de passos e expressões era tão estranho nele, que o rapaz chegava a respeitá-lo como se fosse nos outros. Agora, nenhum transeunte poderia ser mais apressado do que ele.
Quase chegava tarde. Nesse momento mesmo, uns homens levavam o caixãozinho branco, alegremente, e sem esforço, porque ela devia ser muito leve…
Como um autômato, juntou-se aos que acompanhavam, decidido a ir até ao cemitério. Estava demasiadamente corado e sentia os olhos ardendo, como se quisesse chorar. Então, foi caminhando, de cabeça baixa. Estava envergonhado. Tinha a impressão de que todo o mundo botava os olhos nele.
A muito custo, arriscava um olhar rápido atrás do caixãozinho, tentando medir-lhe o comprimento. Mas, sem saber por que, nesse instante, não sabia mais calcular, e todas as cousas lhe pareciam desproporcionadas, sem volume, sem tamanho certo. É que seus olhos estavam nublados, choravam.
Deu mais alguns passos, depois parou. A ideia de que essa gente toda o visse chorando e o julgasse algum parente da morta, talvez o seu noivo, atemorizava-o. Não ia ao cemitério, voltava para casa, onde podia chorar à vontade sem dar contas a ninguém.
Voltou. Irresistivelmente, passou pela casa onde ela morava. Estava de janelas fechadas, no escuro, desadoradamente triste. Seria tão fácil bater, perguntar quem morreu! Mas sempre acontecia isto: nos casos mais importantes e mais urgentes, vacilava. A timidez tolhia-lhe os movimentos. Afastou-se a passos lentos, pensando esperançadamente no dia seguinte. Dir-se-ia que os olhos verdes dela estivessem refletindo esperança em sua alma,
E talvez nem fosse ela, fosse um irmãozinho seu… De manhã, quando viesse para o escritório, podia ser que a encontrasse de novo à janela, absorta. Então, também podia ser que a alegria fosse tão forte, que os seus lábios se desgrudassem, uma única vez, e balbuciassem, timidamente, o seu verdadeiro: “Olhos verdes, bom dia!” Mas, bem no fundo, tinha receio de ser preciso reformar, mais tarde, as suas quadrinhas, assim: “Olhos verdes, boa viagem!”
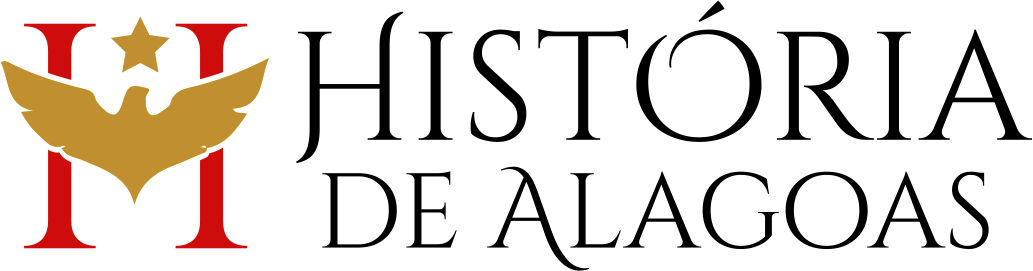


o conto reflete bem as descrições dadas a cima sobre seu autor… tímido, de velada angustia. Um bom conto. olhos verdes, sempre encantam — assim, também, possuem o dom de desiludir….”olhos verdes,” onde estão……?