Afinal, quem somos nós?
Jorge Barboza entrevistou, em setembro de 2007, o sociólogo Bruno César Cavalcanti, a antropóloga Rachel Rocha e o mestre em História e Crítica de Arte Francisco Oiticica Filho em busca das características do povo alagoano

A entrevista abaixo foi publicada na edição nº 2 (setembro de 2007) da URUPEMA, revista da cultura alagoana editada pelo jornalista Jorge Barboza.
Foi o próprio Jorge Barboza quem entrevistou o sociólogo Bruno César Cavalcanti, a antropóloga Rachel Rocha e o mestre em História e Crítica de Arte Francisco Oiticica Filho.
O bate-papo em busca das características do povo alagoano produziu um rico material de aprendizado e pesquisa para quem quer compreender a nossa cultura.
****
Levando-se em conta um conceito proposto pelo historiador Sergio Buarque de Holanda [1902-1982], a do homem cordial brasileiro, e imaginando que o alagoano seja um dos últimos exemplares desse homem cordial, a pergunta é: quem é o homem alagoano?
Bruno César Cavalcanti – Bom, primeiro teríamos de pôr em suspensão a própria ideia do homem cordial, que é uma noção forjada nos anos 1930 e, portanto, pensada num país que vivia transformações econômicas e políticas muito visíveis e muito marcantes — que, num certo sentido, foram diluídas ou transformadas nessas décadas todas, mas, talvez, fosse possível repensar ou adaptar ou rever mesmo a ideia da cordialidade, como sugerida pelo Sérgio Buarque de Holanda. Eu creio que se nós mantivermos esse gancho, esse ponto de partida, é possível localizar esse homem cordial aqui, sim, infelizmente.
Francisco Oiticica escreveu sobre o “poeta cordial” Vincent Monteiro [“Vincent Monteiro, Poeta Cordial/ Marcas Textuais de Sociabilidade literária — Paris, 1946-1960”, Edufal, 2004]. Bom, dê-nos a sua definição…
Francisco Oiticica Filho – Eu estava anotando aqui três vertentes dessa cordialidade histórico-sociológica, que se inicia com Rui Ribeiro Couto [poeta e diplomata paulista, 1898-1963], que foi quem forjou essa noção em carta ao embaixador do México Alfonso Reyes, e publicada na revista Monterrey [março de 1931].
É uma noção que propõe uma integração latino-americana através de uma cordialidade —que poderia ser interpretada como pacifismo—, que se opunha, então, àquele contexto dos anos 1930, que marcava o apogeu, o crescimento dos totalitarismos e da militarização do Estado.
Através da ideia de que haveria uma vocação para o pacifismo no povo latino-americano, ele intitulou isso como cordialidade.
A ideia era que houvesse, a partir dessa oposição entre militarização e pacifismo, a integração do homem latino-americano. Então, essa aí foi a concepção primeira, original, da cordialidade.
Teria uma tradição literária para a ideia de pacifismo, que propunha a integração latino-americana. Sérgio Buarque de Holanda pegou isso daí e…
Trouxe para o contexto nacional…
Francisco Oiticica – Sim, mas lhe deu um aspecto negativo, com pertinência, também, que é o compadrio. Ele viu no homem cordial um sinônimo do compadrio, que é esse favorecimento e essa invasão do domínio privado na esfera pública, nos interesses públicos, que tem a ver com aquela ausência de uma revolução burguesa no Brasil, pelo fato, então, de que vale mais a pena ter um amigo do que investir em aprendizado. ou seja, a forma de você ascender ao poder é baseada na troca de favores.
E uma terceira vertente, completando meu raciocínio, é a de Gilberto Freyre [1900- 1987], que via no homem cordial uma resposta da ideia do medo da democracia racial no Brasil.
Então são três vertentes ou desaguadouros da noção de homem cordial: o pacifismo — a integração latino-americana —, o compadrio — a invasão dos interesses privados na esfera pública de poder — e o mito da democracia racial.
Mas esse conceito de homem cordial seria algo forjado pelas nossas classes dominantes, por sua vez, subalternas as classes dominantes da Europa e, por último, dos Estados Unidos?
Cavalcanti – Até onde eu vejo, o Sérgio Buarque usa uma perspectiva analítica baseada em Max Weber [Alemanha, 1864-1920]. O homem cordial é um tipo ideal… Ele diz que o homem cordial é uma abstração, que ajuda a pensar as relações reais, ou seja, o homem cordial não é exatamente um homem concreto, no sentido de que se possa limitá-lo à experiência individual. Apesar de que, na experiência individual, na observação direta das relações sociais, você vê os traços dessa tipologia, dessa concepção abstrata da cordialidade.
Rachel Rocha – Eu estava aqui pensando naquela definição do Moreno Brandão sobre o ser alagoano. No rastro dessa história de identidade, vamos pensar se existe uma identidade alagoana, se ela está em construção, se ela existe de verdade, se ela existiu um dia.
O historiador Moreno Brandão, em 1909, lança um livro chamado “História de Alagoas”, e ele cria um conceito do caráter do alagoano, que hoje a gente poderia traduzir, facilmente, como um conceito de identidade. Ele diz assim: “O alagoano é um ser taciturno, algo desconfiado, sem a franqueza rude dos demais provincianos; detesta fanfarronadas e não tem avidez de glórias”.
Bastante humilde, não é?
Rachel – Tem muitas coisas nessa definição. Talvez algumas coisas aproximem, reforcem a ideia da cordialidade e outras até coloquem pontos de interrogação sobre isso.
Eu estou falando no conceito de Moreno Brandão porque, talvez, seja o primeiro conceito — e acho que o único, assim, tão explícito sobre o que seria esse ser alagoano que a gente tem no século 20, e que, por muitas razões, continua muito atual em algumas de suas afirmativas. E aí a gente poderia pensar um pouco sobre esse conceito e fazer algum link dele com o homem cordial…
O alagoano é, ainda, um ser taciturno?
Rachel – Olha, eu não sei se é taciturno, mas acho que ele, ainda, faz muita questão de ser visto como alguém que detesta essas fanfarronadas, e que não está nem aí mesmo para essa ideia da avidez de glória.
Quando a gente pensa que Moreno Brandão construiu esse conceito no começo do século 20, em 1909, ele já devia vir amadurecendo essa questão, no final do século 19 ao começo do século 20.
Talvez ele tivesse, ainda, muito impactado pelo movimento separatista pernambucano, que deu origem a nossa independência, ao nosso desvinculamento da Capitania de Pernambuco e aí, como a gente foi muito taxada — e há uma polêmica na historiografia mesmo sobre isso — de ter sido contrária a esse movimento, de termos sido colaboradores da Coroa Portuguesa, ou de termos, em outras palavras, traído os pernambucanos, quando a gente observa o tipo, vamos dizer, comportamental de um alagoano ou de um pernambucano é muito comum você ver o pessoal de Pernambuco, particularmente o de Recife, ser muito altivo, e muito convencido e muito orgulhoso, grandiloquente e épico e tudo mais, em suas referências.
Enquanto que, aqui, a gente parece não dar muito valor para isso, quer dizer, nós nunca vamos encontrar uns aos outros vestidos com aquela camisa da bandeira de Alagoas, mas a gente vê pernambucanos adoidados com isso. É muito fácil reconhecer o pernambucano porque eles são cívicos.
Então, quando essa parte do conceito de Brandão, em que diz que não temos avidez de glória, talvez ele estivesse muito marcado por essa impressão.
Mas há muitas coisas. Acho que há, sobretudo, nesse conceito, uma necessidade, um desejo de nos identificar mais com o índio, ao mesmo tempo em que ele rechaça qualquer identidade com o negro, o que está colocado neste “detesto fanfarronadas” é uma coisa com os negros, não é? A própria palavra fanfarronada, ela tem, etimologicamente, uma ligação, posteriormente, com africanada, com farofeiro.
Então, está muito envenenada, muito maculada pela ideia das coisas desprestigiosas aqui.
Detestar fanfarronada era uma forma de não se ver como negro, embora Moreno Brandão fosse um mulato. Acho que a primeira parte do conceito, “o alagoano é um ser taciturno, algo desconfiado”, é um elogio as nossas raízes indígenas, quer dizer, se a gente tem de se identificar com um algum tipo desses, que seja com o índio…
Cavalcanti – Esse conceito, dentro do que Moreno Brandão era, ele o está pensando a partir de um certo psicologismo — caráter é um conceito psicológico —, estendido ao coletivo. Então, esse é um modelo analítico superado.
O Sérgio Buarque usa uma tipologia. Não tem aí o essencialismo que tem no conceito de Brandão. Mas o ser taciturno e desconfiado casa muito bem com a noção buarquiana da cordialidade, porque, segundo Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial é o homem que mascara as suas relações públicas de uma afetividade como possibilidade de levar adiante esse relacionamento.
Está aí: “Cícero Ferro é meu amigo” — esse slogan é maravilhoso, puro homem cordial. Porque o Sérgio Buarque contrapunha essa cordialidade à universalidade da burocracia pura. O relacionamento universal, que a democracia pede, é impessoal e baseado em relações que são estáveis…
Oiticica – E na meritocracia, também, não é?
Cavalcanti – Exatamente. E numa estabilidade entre certo e errado, direito público e direito privado. Enquanto que a cordialidade é um modo de dar intimidade, no relacionamento, como a única possibilidade de esse relacionamento existir.
Oiticica – Essa cordialidade buarquiana você vê, também, nos nomes dos jogadores de futebol, todos terminados em inho. O diminutivo e o apelido são outras características que chamam atenção.
Agora, eu queria levantar uma questão de ordem que é o porquê da busca de uma identidade, em que isso contribui para o alagoano, uma vez que eu vejo, também, que uma ausência de identidade possibilita, ela dá chance, dá margem, é uma facilidade até, é uma característica da adaptabilidade que eu vejo, ou que eu gostaria de ver, encarnada nesse alagoano que não se reconhece como alguém com uma identidade mista, diante de um quadro de globalização, de cruzamento de fronteiras, de desterritorialização.
Então, trazendo para o tempo presente, talvez fosse o caso de se pensar num culto à ausência de identidade e promover essa ausência de identidade, como que preparando esse alagoano para uma outra postura mais flexível, adaptável a outros tempos.
Ha um vazio de identidade que precisava ser preenchido, e isso?

Oiticica: “Alagoas é o Estado com maior concentração de renda e propriedade, de poder e riqueza”. Foto Pablo de Luca
Cavalcanti – Eu acho que é mais uma questão de otimizar aquilo que nós vemos como defeito. Por exemplo, a Rachel se referiu a esse caráter grandiloquente e cívico, plebiscitário. Por exemplo, no Recife, você tem uma população plebiscitária, eles vão para a rua, marcham contra qualquer coisa.
Diferentemente de nós. Você derruba um patrimônio arquitetônico da cidade, não nos movemos, ninguém se mexe. No Recife, eu lembro que o Clube Vassourinhas, que é o clube mais tradicional de frevo, em 1992 ou 1994, não lembro bem, eles ameaçaram na imprensa não desfilar no Recife-Folia como protesto às verbas municipais para o Carnaval do ano subsequente.
Eu estava em Recife, ouvi isso de manhã, no rádio, e à tarde já havia uma passeata de caras-pintadas protestando na porta da prefeitura por mais verbas para o Vassourinhas, para que eles não praticassem esse absurdo de traição cultural — foi assim que eles interpretaram.
Então se o Recife é cívico, é épico, a Bahia, por outro lado. Você tem uma identidade cívica pernambucana em contraponto, por exemplo, a uma identidade étnica baiana, forjada pela força das populações negras. E nós não somos nem uma coisa nem outra.
Rachel – Nós somos telúricos (risos)…
Cavalcanti – É, nós somos telúricos, exatamente.
Rachel – Épicos, étnicos e telúricos…
Oiticica – No mapa do IBGE, Alagoas é o único Estado que está pintado de uma cor só, quando se trata do nível de concentração de renda, de propriedade no Brasil.
A propriedade no Brasil — e isso que se chama telurismo — é altamente concentrada. Pois, em Alagoas, ela é pintada de uma cor só, ou seja, não há nenhuma variação, nenhuma nuance no que se refere à distribuição de terras em Alagoas. Isso é telurismo, então?
Alagoas é o Estado com maior nível de concentração de renda e propriedade, de poder e riqueza do Brasil.
Cavalcanti – Eu queria concluir o que eu estava dizendo, lembrando que o Recife, como Salvador, são cidades coloniais, enquanto que nós somos uma cidade do Império. Então, um traço que não podemos esquecer nunca é que nós temos uma urbanização muito tardia.
Se nós temos elementos comuns a outras partes, como patriarcalismo, a grande extensão rural, a propriedade rural concentrada etc., nós temos particularidades. Uma delas é a nossa urbanização muito tardia, absolutamente tardia.
Nós não geramos um caldo de cultura, digamos assim, forjado no passar dos séculos; uma classe média liberta, por exemplo, dessa dependência direta dos grandes proprietários rurais.
Então, a transferência do poder rural para a cidade, ela, aqui, foi muito mais traumatizante, muito mais impactante. E ela não encontrou um contraponto urbano.
Por exemplo, a marca étnica da cultura baiana, o apelo que se faz, na contemporaneidade, aos elementos oriundos das culturas negras, ela tem sua razão de ser. É que sempre existiram esses segmentos no meio urbano.
Então, durante quatro séculos esses núcleos puderam forjar nichos simbólicos, que, de certo modo, serviram de contraponto, mais recentemente, ao modelo senhorial, a uma cultura mais senhorial.
No nosso caso, não tivemos isso. Isso é uma característica sociológica de Alagoas, o ruralismo, a extensão dessa cultural rural, aqui, parece ter sido mais duradoura. Nesse sentido, o homem cordial sobrevive mais aqui, talvez.
A cultura alagoana, levando-se em conta a realização de práticas sociais dentro de um espaço determinado, que é Alagoas tornando-se comarca, província e, depois, Estado, essa cultura é do início do século 18, certo?
Cavalcanti – Olha, a cultura plebiscitária dos recifenses, por exemplo, ela tem uma origem nas guerras de expulsão, nas guerras de independência, enfim, existe essa cultura guerreira, que dá ao pernambucano uma grandiloquência, uma tendência à grandeza. É o “rei do forró”, o “rei do baião”, tudo está lá, essa altivez — a maior avenida em linha reta do mundo etc. etc.
Agora, eu creio que nós, que tivemos a saga palmarina, que tivemos as guerras cabanas, nada disso foi instrumentalizado para nos fornecer uma particularidade cultural. Por quê? Porque o predomínio da ruralidade senhorial não deixou, não permitiu, pela ausência da urbanização, ou pela urbanização tardia nossa, não permitiu que se fomentasse nos centros urbanos uma cultura que absorvesse esses traços da História.
Por isso que a nossa aversão à História é conhecida, o nosso desprezo pelo passado, pela História…
Rachel – O alheamento…
Cavalcanti – Sim, o nosso alheamento e o nosso olhar sobre a Natureza, quer dizer, as belezas naturais de Alagoas não são cantadas à toa…
Rachel – Eu acho que a gente forjou, sim, uma cultura. Não forjou aquela, pernambucana; forjou uma cultura bastante particular, bastante singular, que nos caracteriza, que a gente pode chamar isso como quiser, mas, quer dizer, quando você fala, assim, “desde o século 18″… Não, ela vem se formando desde o século 16…
Topograficamente, você quer dizer.

Rachel: “O alagoano ainda faz muita questão de ser visto como alguém que detesta fanfarronada”. Foto Pablo de Luca
Rachel – Não apenas topograficamente, mas com práticas. Os núcleos de povoação, Porto Calvo, Penedo, Marechal Deodoro, eles são bastante antigos, realmente, mas a cultura alagoana é forjada, sobretudo, na maneira de a gente se relacionar com esses eventos históricos, como esses que o Bruno falou.
Então, a gente teve uma prática, uma pedagogia de extermínio muito exemplar.
Em Alagoas temos muito uma cultura do cala-boca: você manda logo liquidar o sujeito, você extermina com as coisas, extermina com qualquer possibilidade da criação de um lugar mais utópico, onde uma identidade coletiva pudesse virar uma referência ou a gente pudesse se vincular a um evento ou espaço de identificação, onde as pessoas pudessem se olhar e se ver.
Qualquer tentativa nesse âmbito foi liquidada, e o Quilombo dos Palmares é um exemplo disso.
Oiticica – Bom, Rachel, interessa-nos definir bem, aqui, qual é essa cultura. Você, até de uma maneira que eu concordo, a está definindo pelo lado contrário, não positiva mas negativamente.
Muito bem, é difícil para quem é nativo definir-se, colocar-se na posição de quem nos ver de fora para dentro. Essa definição pelo avesso, que eu concordo, e outra, que eu estou querendo colocar em pauta, é essa tentativa de a gente enxergar como é que os outros nos veem.
Cavalcanti – Uma coisa muito importante, que é um assunto que eu converso muito com Rachel, que a gente sempre pensa, por exemplo, que nós somos muito mais cosmopolitas do que os baianos ou pernambucanos.
O que não conseguimos, até hoje, é instrumentalizar, positivamente, transformar em virtude aquilo que é o nosso grande defeito.
Eu penso que não é à toa que nós temos um Djavan e um Hermeto na música, que fazem world music, diferentemente dos pernambucanos, que buscam a raiz… Se a gente partir para a Literatura, se você pensar em Graciliano Ramos, se você tirar “Vidas Secas”, Graciliano é um autor intimista…
Rachel – E Alagoas se notabiliza pela particularidade dessa coisa cosmopolita…
Oiticica – Que não desfralda a bandeira de Alagoas…
Rachel – Exatamente. Ninguém desfralda. O artista não é conhecido porque o Hermeto Paschoal ou o Djavan faz uma música autenticamente alagoana. Tem esse desligamento das raízes, que é o contrário do pernambucano, que sai de casa e vai dançar um frevo, vai dançar um maracatu…
Cavalcanti – Botaram fogo no disco do Alceu Valença, em praça pública…
Rachel – A gente vai para o coco, assistir a um coco se entronchando. Então, eu acho que tem um aspecto positivo, pensando contemporaneamente; isso nos dá uma abertura.
Por que Alagoas foi o primeiro Estado brasileiro a gravar um CD duplo de música techno? Que música mais desenraizada essa, que pegou aqui, mais do que qualquer música local, tradicional, folclórica, alagoana, que foi o Pragatecno?
Oiticica – O reggae, também, pegou muito por aqui…
Rachel – Eu sei que isso aí era um personagem, o (jornalista) Cláudio Manoel ou o DJ Angelis Sanctus, era o personagem que fazia isso. Mas um personagem produzido, também, no contexto. Então, eu acho que esse nosso desligamento, esse não-estou-nem-aí para essa cultura mais localizada, ele pode ser lido negativamente pelos defensores das raízes, mas ele pode ser lido positivamente pelas pessoas que, sei lá, que defendam uma concepção mais aberta ou o desvinculamento de se pensar a identidade com as suas referências locais muito pontuais.
Quer dizer, é uma forma de você estar no mundo, também, de você estar para fora. Acho que o alagoano é para fora, ele se sente bem com a exterioridade exatamente porque se identificar com o interior sempre foi extremamente difícil, por conta mesmo desses eventos, dessas formas de como se estabeleceram as coisas em nosso território.
Oiticica – E a cultura do cala-boca, também…
Rachel – E é por causa da cultura do cala-boca. O que é que aconteceu nos anos 1930 aqui? O êxodo dos intelectuais, todo mundo caiu fora…
Oiticica – E a extinção dos terreiros de umbanda.
Rachel – Em 1912 se quebrou os terreiros aqui. A intelectualidade calou-se, ninguém disse nada. Então, quer dizer, esse atrativo pelo lá fora é uma impossibilidade do aqui dentro. Eu vejo dessa forma, acho que temos uma cultura do isolamento, fortíssima, e que é uma cultura que…
Oiticica – Uma cultura do desenraizamento…
Esse êxodo dos intelectuais reflete um constrangimento por parte dos intelectuais? Há uma vergonha dessas raízes senhoriais?
Cavalcanti – Não, eu creio que não. Há uma cultura da amargura, o meio intelectual local é extremamente…
Rachel – Hostil, muito hostil…
Cavalcanti – É, hostil, rancoroso…
Rachel – A crítica literária, aqui, é muito difícil.
Cavalcanti – Aqui, você teve grêmios… Os grêmios literários dos anos 1920, 1930, são uma demonstração cabal disso. Eram grupos muito fechados: a Liga Contra o Empréstimo de Livros, ou os Dez Unidos…
Rachel – Os desunidos…
Oiticica – Que era uma brincadeira (risos)…
Rachel – A produção cultural do século 20, ela fala disso, como a gente expressou esse desconforto, esse estado de coisas que era o nosso isolamento…
Cavalcanti – Isso não mudou. Pense, por exemplo…
Rachel – O coletivo solitário! Você lembra do “Coletivo Solitário”, que foi a exposição do (pintor) Roberto Athayde, aqui, quando se criou o movimento Vivarte, que era a “dispersa e solitária vanguarda caeté”? Veja como os produtos culturais do século 20 expressaram como a gente cultivou essa ideia de que somos, de fato, isolados, que somos lascados, que não temos raízes, e como isso foi, aos poucos, nos caracterizando.
Cavalcanti – Isso que a Rachel fala agora tem uma origem muito precisa. A gente pode localizar isso, penso eu, na ausência… Por exemplo, vamos pensar num conceito caro ao patriarcalismo, a aristocracia rural. O conceito de aristocracia, a ideia de uma aristocracia canavieira, não se realiza aqui.
Quando Gilberto Freyre fala de um segmento aristocrata dos senhores rurais; isso, com raras exceções, se aplicaria a nossa elite. Quer dizer, esse refinamento, esse bom gosto, essa busca de um padrão universal, de fato, favoreceram, por exemplo, ao humanismo, favoreceram às Letras, mas não tivemos aqui um intelectual orgânico, como Gilberto Freyre.
Só para se ter uma ideia, nos anos 1930, o Pai Adão [Felipe Sabino da Costa, 1877-1936], que foi o grande babalorixá do Recife, um homem que, quando morreu, o enterro dele só se comparou com o de João Pessoa, em popularidade e em comoção…
Rachel – Nada a ver com o de Mãe Netinha, que morreu recentemente, aqui…
Cavalcanti – Foi num sábado, eu fui ao enterro dela, esperei a Gazeta [jornal Gazeta de Alagoas], liguei para a imprensa no dia, e nem na terça-feira, quando a gente tem as notícias frias do final de semana, não houve nenhuma repercussão, nem na imprensa escrita nem na televisiva.
Pois bem, essa ausência de refinamento na grande maioria dos nossos proprietários rurais fez com que não se gestasse esse certo humanismo, que ajudou em outros centros, por exemplo, o recifense.
Há uma característica sociológica que nos faz muita falta, até hoje, que é a mediação social. Os mediadores sociais são indivíduos que circulam entre classes e põem em circulação os bens culturais da sociedade.
Foi assim que o samba carioca se tornou uma música popular ao tempo em que foi produzida. Não existiu o samba como uma música marginalizada e esquecida que um dia o país descobriu. Não, ele já se tornou uma música impactante por conta do grupo modernista, de Afonso Arinos [Afonso Arinos de Melo Franco, 1905-1990] e outros intelectuais que tinham na boemia, nesses contatos no meio urbano essa função de mediação.
Como Gilberto Freyre teve. Pai Adão se tornou amigo de Gilberto Freyre, e telefonava para ele quando a polícia chegava no terreiro, e Freyre vinha para a porta do terreiro, de madrugada, e dizia: “Bom, se você invadir o terreiro tem de passar por cima de mim”. Não há notícia de uma atitude dessas de um homem de elite alagoano.
Oiticica – Eu só queria lembrar que o Gilberto Freyre, tal como esse grande intermediário entre as classes, popularizando ou divulgando a cultura popular, ou democratizando a cultura erudita, ele tem posicionamento, do ponto de vista político-ideológico, muito conservador.
Rachel – Ah, sim, com certeza, um homem do seu tempo.
Oiticica – Porque esses problemas de Alagoas são problemas que se agudizam aqui, mas que são, também, de todos.
Cavalcanti – Foi o que eu falei desde o início. Nós temos características que são gerais, por conta dessa ausência de uma revolução burguesa, por conta de um não predomínio do universal sobre o particular e familiar — isso é um traço sociológico do país.
Mas, aqui, isso se tornou mais grave. Essa solidão do literato, esse isolamento do artista, isso se explica muito, também, penso eu, porque aqui a dependência, de quem produz arte, quer dizer, o produtor da arte, da cultura, aqui, continua profundamente dependente dessas benesses para publicar um livro.
Os intelectuais, tradicionalmente, sempre foram arregimentados nos segmentos médios. Estão aí vários intelectuais reconhecidos, mas esses homens todos vieram dos segmentos médios, empobrecidos, das cidades, não é? Então, eles conseguiram espaço social a duras penas.
Essa dependência muito direta da máquina do Estado, dos poucos canais locais, contribuiu muito para essa mesquinhez, um certo jogo de autossobrevivência, nessa selva, digamos assim.
Oiticica – Queria fazer um outro encaminhamento aqui, que é o seguinte: feito esse diagnóstico, como é que a gente pode pensar no amanhã, em saídas, em alternativas, na construção de um amanhã?
Antes disso, há mais duas questões que podiam ser abordadas, que são as marcas da violência, que são parte das nossas raízes. Nossos colonizadores, no norte de Alagoas, em Porto Calvo, são degoladores de índios. Depois, com os senhores de engenhos, há uma relação na casa-grande de escravo e senhor que e baseada muito mais na acomodação do que na solidariedade — e isso, salvo engano, e uma observação de Felix Lima Jr. A outra questão e esse conceito de gente anfíbia, de que o alagoano e um ser anfíbio… Bem, mas essa e uma discussão que pode ficar para o próximo número da revista.
Rachel – É, isso dá muito pano para as mangas…
Oiticica – E tem também o telurismo, que foi levantado aqui…
Então, antes de chegar nessa perspectiva, das possibilidades do amanhã, da criação de uma identidade ou de formação de uma identidade — inclusive, a Urupema tem esse objetivo —, podemos falar desse telurismo alagoano.
Rachel – Esse telurismo alagoano é uma invenção, é bom que se diga. Se a gente identifica, para efeito de comparação didática, a identidade do pernambucano como uma identidade mais ética, no sentido do seu orgulho cívico, e o baiano como a identidade étnica, a gente pode muito bem pensar o alagoano como a identidade telúrica. Em que sentido?
No sentido de que seu desligamento histórico e de sua paulatina identificação — e aí eu digo paulatina mesmo porque nem sempre foi assim — com os elementos de paisagem, por absoluta impossibilidade de se identificar com outros elementos que não sejam os da Natureza.
Porque, talvez, a Natureza seja, de fato, esse lugar mais simbólico, mais utópico de comunhão coletiva. Eu acho que é por isso que ideias como “Maceió, Paraíso das Águas” emplacaram tão bem —uma ideia tão inocente, e como é difícil que a gente supere ela, no sentido de diversificar o argumento turístico.
Então, telúrico, no sentido de um apego ao natural, mas um apego ao natural com base em seu desligamento dos elementos da cultura e da História.
Essa violência se estabeleceu desde o primeiro momento. Começou com o massacre dos índios, depois com o massacre de quilombos, e depois o massacre das nossas reservas ecológicas, das nossas matas, que eram exuberantes, maravilhosas, pois quando se dizimou essas matas se dizimou muita coisa, simbolicamente falando, de conhecimentos indígenas.
Gilberto Freyre falava: “Poxa, hoje em dia ninguém conhece mais para que serve essa árvore, as pessoas chegam e dizem que é um pé de pau…” Quer dizer, esse conhecimento desapareceu, com o desaparecimento do seu suporte material.
E o desaparecimento de uma coisa muito interessante, que o Sávio [o antropólogo Luiz Sávio de Almeida) fala. É uma preocupação dele, que é com o desaparecimento das matas alagoanas, com o extermínio, também, da riqueza material, a maneira como isso se relacionava ao território.
Esse extermínio fez desaparecer a possibilidade de uma organização social à margem, porque o que sustentou muitas dessas organizações foi o fato de elas estarem embrenhadas na mata.
Muitas das expedições enviadas para destruir os quilombos foram fadadas ao fracasso porque era preciso uma ciência de penetração nessa mata. Então, a mata, sempre, colaborou muito com a organização desses grupos à margem.
Com os cabanos foi a mesma coisa. Cabano significa ser da mata, quer dizer, a existência dessa mata possibilitou uma organização à margem do esquema branco e, quando ela foi destruída, junto com isso, também, destruiu-se uma possibilidade.
Essa linguagem do extermínio é reeditada em 1912, com a quebra dos terreiros. Ela é reeditada na prática da política local, desde sempre. Essa história de mandar dar uma pisa no sujeito, de arrancar o bigode do Pipiu — foi o relógio central, que o Félix Lima Jr. conta.
Então, essa pedagogia é exemplar, de fazer você se amedrontar, de fazer você não se agrupar. Essa pedagogia da violência que vem desde o século 16 até hoje, ela formou aí, pela falta, pelo avesso, um tipo de cultura, no sentido de uma forma de se relacionar, que é com o lá fora, porque os elementos de dentro são muito difíceis de criar os links…
Claro que estou falando disso de uma forma muito resumida e apressada, isso é uma coisa que demandaria muito tempo para a gente discutir, muitos exemplos…
Oiticica – Eu chamaria atenção para o significado primeiro do termo brasileiro, que é de derrubador de árvores. Então, colonizar o Brasil, a primeira providência tomada foi derrubar aquela barreira, a mata atlântica, também chamada de inferno verde. A mata era vista como um deserto. O primeiro contato com ela foi um tremendo estranhamento. O brasileiro é derrubador de árvores.
Rachel – O negócio era tão grave que foi criado em Alagoas uma pasta chamada Conservadoria das Nossas Matas. No século 18 foi criado esse cargo, não porque a gente quisesse defender as nossas matas, mas porque a devastação era muito pesada.
Há vários documentos historiográficos em que você vai encontrar indicações do conselheiro dizendo: “Vamos parar de fazer o corte aqui nessas matas de Atalaia, vamos fazer em outro canto porque aqui está se acabando”. A criação desse cargo, Conservador das Nossas Matas, ilustra bem esse comportamento destruidor que o colonizador teve aqui dentro.
Oiticica – Destruídas as matas de Alagoas, estão destruindo as matas da Amazônia e o próprio cerrado. Hoje, nós vemos o aparecimento de uma oligarquia dentro da outra oligarquia porque o modelo agroexportador se reimplantou no Brasil, sendo adotado como o modelo preferencial de produção de riqueza, que se especializa, agora, no mundo globalizado, na produção de bens primários voltados para o mercado externo.
Então, encerrado aquele dinheiro que resultou da privatização, às custas do meio ambiente é que se mantém essa balança comercial produtiva, e o valor superestimado da moeda brasileira. Então, estamos vivendo um período drástico.
O que é ruim, do ponto de vista de uma revolução burguesa para Alagoas, porque a gente aumentou o fosso, agora, entre essa classe média insipiente e as oligarquias. E mais: diante desse fosso aumentado, o que está acontecendo é uma aberração, que é um pacto entre as oligarquias e as classes menos favorecidas, que estão — não somente em Alagoas, mas em todo Brasil — unidas.
Estamos vivendo urna situação sui generis: passando por cima da mediação, oprimidos e opressores se deram as mãos na produção dessa riqueza, que é altamente concentradora de poder, que é essa riqueza baseada no modelo agroexportador, que consome nossos bens naturais, nossos recursos naturais.
Alagoas perdeu, as classes médias de Alagoas perderam a oportunidade de ver, aqui, o que aconteceu em Pernambuco, com a quebradeira do setor agroexportador. Depois da quebradeira, Pernambuco se reergueu e, hoje em dia, está exportando cultura de primeiro mundo, de primeira grandeza.
Não mais, apenas, voltada para valorização da cultura popular que é o que Alagoas está pensando em resgatar com a folclorização da cultura. Não, Pernambuco está vendendo softwares, está vendendo tecnologia da informação, está vendendo tecnologia de ponta.
O mangue-beat já trazia em si o componente de música eletrônica…
Cavalcanti – No contexto local, o que cabe ao Estado fazer, atualmente, é seguir iniciativas que, do ponto de vista particular, já existiram, como as pesquisas de Théo Brandão [1907-1981], o registro folclórico que ele fez.
Só que Théo Brandão era um homem estudioso, não era um agente cultural do Estado, um membro da Secretaria de Cultura, que, por sua vez, continua fazendo algo extremamente acanhado. Basta você pensar o que foi o malogro de “Maceió, capital americana da cultura“. Fez-se um show no estacionamento do Jaraguá, extremamente pomposo, com Djavan — o champanhe correndo no palanque oficial —, e no lado de dentro do Jaraguá, os grupos folclóricos alagoanos sem nenhuma audiência…
Oiticica – À míngua…
Cavalcanti – É, à míngua, esperando na calçada, por um ônibus lotado que os levariam de volta, talvez com um sanduíche, sem cachê.
Esse tratamento continua, esse reconhecimento não passa pelo reconhecimento profissional e continua prevalecendo.
Pense no Maceió Fest, em iniciativas de valorizar a cultura local. São iniciativas positivas, mas extremamente pífias.
Esses grupos assumem um papel secundarizado — não apenas ao cachê, mas, também, ao espaço na festa. É aquele formato do alpendre, você olha o povo brincar no terreiro, mas olha, sempre, do alpendre.
Oiticica – Isso tem a ver com o desmantelamento da burocracia, da máquina pública, o que tem a ver com a cordialidade. Os burocratas das secretarias, não somente as de cultura, têm de ser profissionalizados.
Esses lugares não podem ser ocupados por gente de cargo de comissão. Tem de ser profissional de carreira, tem de ser um burocrata de carreira, porque, senão, de governo a governo, você vai ter políticas que não têm nada a ver uma com a outra.
Cavalcanti – É o que tem acontecido. Por exemplo, na área cultural. Por mais que se tenha tido boas ideias e boas iniciativas, também vemos as velhas iniciativas altamente personalistas, como aquelas comitivas governamentais pelos Estados brasileiros.
Até hoje não se sabe para que serviu aquilo ali. Ou, então, coisas mais estapafúrdias, como a Secretaria do Cinema — de uma hora para outra, do nada, nós passamos a ter uma locação cinematográfica. Patético, deu muitas viagens à Europa e nada mais do que isso.
Oiticica – Proposta: que seja aberto um curso, para cargo de nível superior, nas diversas secretarias, mas, particularmente, nas secretarias de cultura ou patrimônio. Há de se profissionalizar esses cargos, porque eles não podem ser de comissão, não podem ser entregues a amigos do governante eleito. Esses cargos têm de ser ocupados por gente de carreira, profissionais concursados, pela abertura de concursos para essas áreas.
Rachel – Essa é a nossa cordialidade. Veja aí o Tribunal de Justiça: dias desses, só botou os parentes para fora por força da lei mesmo, um constrangimento público.
Oiticica – Mas há a contratação cruzada. Você contrata os meus parentes e eu contrato os seus.
Rachel – Pois é, é a cordialidade, não é?
Francisco, quando você escreve sobre o poeta pernambucano Vincent Monteiro [1899-1970], que viveu em Paris, o leitor depreende da leitura do livro que a cordialidade salva o poeta.
Oiticica – É verdade. Eu não busquei o fundamento da cordialidade, puramente, do Sérgio Buarque de Holanda, que toma a cordialidade pelo seu lado negativo.
Essa cordialidade em Vincent Monteiro readquire a sua positividade original e, mais do que isso, ele colocou em prática aquilo que havia sido elaborado mentalmente, por Ribeiro Couto.
Aí você vê a troca de favores no meio literário. Eu peguei um catálogo, relacionado a todos os prêmios literários na França, no século 20, e fui, então, procurando, naqueles anos que Vincent Monteiro morou na França, depois da guerra, prêmios literários, os nomes das pessoas premiadas. Pois todo mundo que havia sido publicado por Vincent Monteiro, ou havia sido premiado ou havia feito parte dos júris desses certames literários.
Rachel – Era um revezamento
Oiticica – Um revezamento incrível entre poetas publicados, premiados e jurados.
Rachel – Só mudava o lugar que ocupavam, não é?
Oiticica – Isso aí, para Sérgio Buarque de Holanda, era sinal de uma deficiência da nossa formação intelectual. Mas eu fui ver isso reaparecer lá fora, ao contrário, como um reflexo mesmo de uma profissionalização, de uma especialização do campo, uma sedimentação do campo em que existe um grupo que está sempre produzindo, que está sempre mandando as coisas para os lugares e seus nomes estão sendo postos em circulação.
Para isso, Vincent Monteiro passou por um processo de afrancesamento, digamos assim, de reversão de identidade. Daí que eu acho importante de a gente estar pronta para assumir todas as identidades.
Esse apego, esse aferramento a uma identidade pátria e a uma identidade unicista, centrada em si mesma, é ruim, sempre foi ruim e é cada vez mais ruim, tendo em vista que estamos vivendo num mundo em que as possibilidades, as oportunidades estão aí abertas para aquelas pessoas que conseguem transpor os limites dessas identidades.
Rachel – Identidades mais plásticas, que você lança mão de acordo, também, com a situação…
Oiticica – É, e essa identidade não é nada, ela tem de desnaturalizar a identidade, também…
Rachel – Não vale a pena pensá-la como uma coisa essencialista, que o alagoano é assim, sempre será assim, ou que o recifense é assim… Não, é uma coisa muito dinâmica.
Oiticica – Tudo isso é uma construção, uma construção ideológica.
Pensando na cultura como o acumulo de usos e costumes, trazendo isso para o presente, quais são os usos e costumes em voga e como a gente pode definir ou pensar ou vislumbrar a cultura alagoana e, novamente, atestarmos, aqui e agora, a nossa identidade?
Rachel – Dos anos 1990 para cá, se a gente pensar no fenômeno local e global, ao mesmo tempo que favoreceu a que enxergássemos certas características dessa identidade, entre aspas, alagoana, foi justamente o movimento turístico.
Fenômeno global e que atravessa o local. Por quê? Porque a gente conviveu, durante os anos 1980 todos com aquela imagem de Alagoas, Maceió, paraíso das águas, e como esse apelo natural entrou num certo desgaste e entrou numa necessidade de diversificação, como aconteceu no mundo todo.
As pessoas não querem vir só por causa das nossas belas praias, elas querem saber, também, o que é que a gente tem, o que aconteceu neste território. Então, quando Maceió se viu na necessidade, na iminência de ter de dar uma resposta diferenciada, em termos de turismo, que não fosse somente as suas belezas naturais, aí o jogo de xadrez se armou novamente.
A gente se viu nessa situação do desligamento que nos caracteriza — porque a gente não consegue emplacar, ainda, um mote diferente dentro do turismo. Para mim, é muito emblemático. Lembra quando Maceió foi candidata a “capital da cultura”? Que foi um fiasco, aquela história… Se você observar a publicidade daquela época, quando o mote era a cultura — atenção, um argumento e tanto para você se desligar dessas histórias de paisagem etc. etc. Mas, se você olhar para as publicidades do período, o apelo é, novamente, praia, mesmo que o texto fale da cultura, não se consegue desligar dessa ideia.
É bom lembrar que não existe um jornalismo cultural sério, voltado para as nossas necessidades e identidades, e para os nossos artistas e a nossa arte. E um vazio que a Urupema quer preencher.
Oiticica – Que ela não se torne um órgão oficial do governo…
Claro que não!
Rachel – Pois é, que ela mantenha a sua independência.
Oiticica – Uma terceira proposta que eu trago é de a gente lançar pontes, buscar uma aliança fora do Estado, promovendo intercâmbio. Porque está faltando um pouco de oxigênio, a gente podia se oxigenar lá fora — não saindo, mas trazendo para cá.
Uma autoridade do turismo mesmo, de fora, disse justamente isso: que não adiantava mais vender paisagem porque o turista não está interessado mais nisso; precisa vender cultura. E aí houve uma folclorização da cultura, voltou-se para dentro…
Rachel – Mas de uma forma estereotipada…
Oiticica – Pois é, a gente tem de se voltar para fora, na hora de vender cultura, enfim, exteriorizar o interior, e não buscar as raízes, e não buscar resgatar raiz nenhuma, porque a gente vai cair nesse assistencialismo.
O resgate de raízes, o estudo, a História e feita pelos historiadores. Não caberia a nós, intelectuais, agentes culturais, jornalistas, repórteres, artistas, essa busca da cultura popular, das raízes, de fazer o mangue beat? Mas as raízes estão aí, estão nos livros de História. Por exemplo, Dirceu Lindoso, que é um historiador fantástico, até que ponto ele e reconhecido nesse contexto cosmopolita, maceioense, alagoano, na escola etc.?
Rachel – Dirceu Lindoso é um cara que a gente poderia inscrever na mesma lógica, de não ser um localista…
Quer dizer, as raízes estão aí, estão no livro do Dirceu Lindoso. O que a gente precisa conhecer é o Lindoso…
Oiticica – É, tem muito capital ainda para ser explorado. O próprio Calabar, como é que Porto Calvo não tem, digamos — não sei se seria isso —, um memorial?
Cavalcanti – Não creio que seja necessário, para fazer uma música ou uma arte tipicamente alagoana, você reproduzir esses elementos essenciais do que seja raiz ou coisa desse tipo. Mas você pode fazer uma arte informada, pode produzir uma cultura que transpasse os elementos informativos, mas que não os ignore. Isso só é possível com a banalização do conhecimento.
Oiticica – Eu acho que o Wado, levando em consideração isso aí, nessa composição, nessa mistura de identidades, a pessoa dele já encarna muito esse projeto…
Cavalcanti – De diálogo, não é?
Oiticica – De uma identidade cruzada, dessa transposição, dessa hibridação cultural. Ele não é nascido aqui, mas foi criado aqui; foi lá para fora, mas depois ele vem para cá de novo…
Faz um samba que remete a Jorge Benjor, mas que também remete a Pernambuco, ao mangue beat…
Oiticica – O que eu estou defendendo são modelos nas camadas médias, também, porque isso daí tem um outro tipo de impacto na nossa crítica. É um outro tipo de raiz, não deixa de ser um outro tipo de raiz; mas uma raiz não tão traumatizada, não tão pisoteada, não tão compactada quanto aquela raiz das classes…
Rachel – Das classes mais populares…
Oiticica – Das classes populares. Porque tem de primeiro levar essa cultura para o hospital para cuidar desse trauma. Tem sempre essa ideia de que, não, aquela pessoa é uma pessoa traumatizada, ela precisa ser resgatada, precisa de atenção, a gente precisa resgatar nossa dívida social para com ela.
Enquanto que um Wado, por exemplo, já não estamos mais preocupados com isso, não temos uma dívida social para com ele. Então a gente olha de igual para igual e tem uma postura crítica, inclusive, muito mais rigorosa e exigente.
Rachel – E menos sentimental.
Oiticica – É, menos sentimental.
Cavalcanti – Eu creio que a música, talvez, seja um desses setores que têm conseguido uma renovação a olhos vistos. Wado é um exemplo, mas não é o único, não é?
Oiticica – Não, não…
Cavalcanti – Nós estamos vivendo um momento muito interessante, talvez, na música.
E o teatro? O teatro é uma marca muito forte na cultura urbana alagoana.
Cavalcanti – O teatro sofre de público, não é? O mal de público. Nós precisamos formar públicos para a arte produzida localmente, criar mercado para ela.
Oiticica – Outro exemplo, igual ao Wado, equivalente ao Wado na área videográfica, é o Werner Salles. Não é daqui, mas criado aqui, produzindo com um olhar mais universal -nacional e universal.
Talvez fosse interessante fazer uma caracterologia da geração a que pertencem Werner e Wado, para ver o que está sendo gestado aí dentro. Acho que, quando você começa a verificar, aqui, que tem gente parecida, equivalente, trabalhando na cultura com traços que não são os traços que a gente está acostumada a ver, e nas camadas médias, isso daí pode ser a ponte para uma saída, que seja uma luz no final do túnel.
E na Literatura?
Oiticica – Na Literatura tem exemplos aí não só na prosa poética. Tem os jovens autores; gostei muito da Simone Cavalcante. Aquele livro que ela publicou…
Rachel – Muito bom.
Oiticica – Muito simpático. Despretensioso, mas um projeto muito bem pensado, didático, que areja, ventila, traz ares novos.
Cavalcanti – Um formato enciclopédico, de almanaque, também; tem uma montagem fragmentada…
Oiticica – Bem-humorado também. Falta humor, falta o bom humor na cultura alagoana. Nesse lado taciturno, a Simone não duvida de si mesma, ela se leva muito a sério…
E não se permite a fanfarronadas (risos)…
Rachel – É, detesto fanfarronadas (risos)
Oiticica – Não, Simone, não. É um livro bem-humorado, despretensioso, e ela é da mesma geração do Werner e do Wado.
Rachel – Talvez por ser uma atividade muito valorizada, uma atividade de distinção em Alagoas, extremamente valorizada, a Literatura.
Você lembra um concurso nacional, que a TV Globo fez sobre o fulano do século, o pernambucano do século, o alagoano do século? Foi há uns oito anos, sei lá, e quem ganhou aqui em Alagoas foi Graciliano Ramos.
Mas o mais curioso da história, dos dez nomes que sobraram, na primeira triagem, entende, nove eram escritores, aliás, todos eram escritores, quer dizer, seis ou sete tinham na atividade literária sua atividade principal e os outros conjugavam outras atividades com a atividade literária.
Acho isso bem legal porque quem ganhou o pernambucano do século? Luiz Gonzaga, um artista popular. Bom, mas a Literatura é muito valorizada numa classe, numa elite, não é?
Oiticica – Por isso mesmo que eu acho… Minha tese é que Alagoas produz tão bons políticos…
Rachel – Quem são esses tão bons?
Oiticica – Profissionalmente falando, sim.
Cavalcanti – Bons para si, não é?
Oiticica – Bons para si, bons para a política, jogam o jogo da política.
Rachel – A gente nunca ganhou nada com isso. Há políticos mais orgânicos. Você vê um ACM [Antônio Carlos Guimarães] na Bahia, um cara que faz pela Bahia; o Marco Maciel em Pernambuco, ele faz por Pernambuco.
Agora, quem é que faz alguma coisa por aqui?
Cavalcanti – Ronaldo Lessa?
Rachel – Ronaldo Lessa nada.
Oiticica – Está certo, está certo (risos)… Reconsidero o que eu disse.
Rachel – A única política que não me faz vergonha neste Estado é a Heloísa Helena; é a única.
Cavalcanti – Nós tivemos grandes homens de Ciência, de expressão nacional. Esse é um traço nosso também. Ladislau Neto, Melo Moraes, grandes nomes.
Sem contar o dicionarista…
Oiticica – Aurélio!
Rachel – Aurélio Buarque.
Cavalcanti – Deixa eu falar. Esse cosmopolitismo que a gente está levantando aqui é uma leitura virtuosa de um problema nosso…
Rachel – De um defeito (risos).
Cavalcanti – As políticas culturais poderiam explorar melhor esse aspecto em vez de buscar formas essencialistas de autodefinição. Nós poderíamos elaborar melhor essa abertura.
Rachel – Se o slogan de Maceió, se fosse vendido um slogan assim: “Venha para cá para não fazer nada”… Na verdade é o que você termina vindo fazer porque se você considerar que o rumo do turismo é no sentido da cultura, da História, dessa valorização desses outros elementos que se despregam da paisagem, e que, aqui, a gente não encontra muito coro para isso, a gente poderia investir na ideia, sem constrangimentos, de que venha para cá para fazer coisa nenhuma. Isso resgata o verdadeiro valor das férias.
O turismo mundial alucinou no sentido de que o turista não pode perder tempo. Então, você vai para Paris e tem de ver o Louvre, você vai não sei para onde, tem uma obrigação de adquirir conhecimento.
O verdadeiro valor das férias é não fazer nada! Então, a gente podia vender um slogan como esse, venha para cá ficar com as pernas para cima. Mas a gente tem constrangimento de fazer isso — o bom turismo ensina que você tem de ver alguma coisa, que você tem de usufruir de alguma coisa e esse raciocínio vale para a nossa identidade, quer dizer, para a nossa identidade desenraizada. Isso tem um aspecto positivo. Você pode fazer mil leituras, mas não faz sentido a gente negativizar isso — na minha ótica, acho que não. Essa é uma característica, é um estado de coisas que nós estamos vivendo, e que a gente, se for inteligente, vai tentar positivar e não se lamentar.
Cavalcanti – Se esse alheamento é um dispositivo gestado na longa duração dos séculos, ele não seria desmontado por uma pura e simples política cultural.
O que nós podemos fazer é aumentar a capacidade e os canais de circulação da informação e deixar que essa característica peculiar nossa opere com liberdade esses elementos.
É preciso tomar conhecimento da História? É. É preciso mais informações sobre os elementos e os objetos da cultura? É, mas sem dirigismos.
Rachel – Os defensores da cultura vão odiar essa história, mas, na verdade, é uma simples constatação que estamos fazendo aqui.
Cavalcanti – O senso comum tem uma compreensão de que identidade é algo essencial. Então, as pessoas vão às lágrimas em defesa das raízes, mas nós não somos tubérculos para ter raízes.
Oiticica – Eu não sei se vai caber, mas a gente não desenvolveu muito algo que me interessaria, que era pensar como os outros nos veem.
Cavalcanti – É muito usual, entre nossos amigos estrangeiros, ou seja, as pessoas que não são daqui, elas reclamam muito de que nós não nos visitamos. Ninguém vai à casa de ninguém.
Rachel – Somos isolados…
Cavalcanti – Isso, talvez, seja um traço dessa nossa…
Rachel – Rabugem cultural, não é?
Cavalcanti – Reserva doméstica.
Oiticica – No início dos anos 1980, Maceió começou a aparecer na mídia — porque esses elementos eu via como algo positivo, porque esse isolamento é visto como algo positivo, de fora para dentro, como você falou, Rachel, que aqui é um lugar muito aprazível, singelo e descontraído, e ameno, de se viver.
Quando isso se começou a ver de fora, atraiu uma especulação, e essa especulação está aí. Outro aspecto da cultura, a cultura especulativa, está de vento em popa em Alagoas…
Rachel – Os italianos comprando nossas praias etc. etc. etc.
Oiticica – E, também, com esse boom imobiliário aí, ainda incompreensível para… A meu ver, algo que eu não consegui… Uma conta que eu ainda não consegui fechar.
Cavalcanti – O preço do condomínio em Maceió é caríssimo porque os edifícios são construídos, são adquiridos e permanecem fechados. Boa parte dos prédios aí tem poucos moradores, vários apartamentos fechados — é uma demanda especulativa.
Bom, para encerrar, o que vocês acham da criação de uma revista cultural, de debate, de discussão das questões culturais alagoanas?
Cavalcanti – Maravilhoso, sobretudo se ela conseguir romper com um ciclo histórico nosso das revistas de amigos. É preciso…
Rachel – É preciso que ela não seja uma revista cordial (risos).
Oiticica – Que a Urupema consiga autonomia editorial.
Rachel – E que ela consiga derivar para outras coisas. Porque se a gente pensar no público leitor — quem são essas pessoas que leem, ainda, tão pouco, aqui? Tudo bem, claro que você não pode fazer um produto que vá resolver o problema, cultural, local. Mas ela é um pouco uma instigação, ela pode se desdobrar.
Cavalcanti – Acho que ela pode fazer a mediação necessária entre os produtores, os historiadores, os poetas, os literatos, os cientistas, de um modo geral, que produzem regularmente, e o leitor anônimo…
E o estudante…
Cavalcanti – É, mas ela pode instigar a curiosidade, a busca de informação. Em vez de ela servir ao diletantismo disperso, ela pode ser uma ponte entre a produção mais sistemática e mais adensada e o leitor.
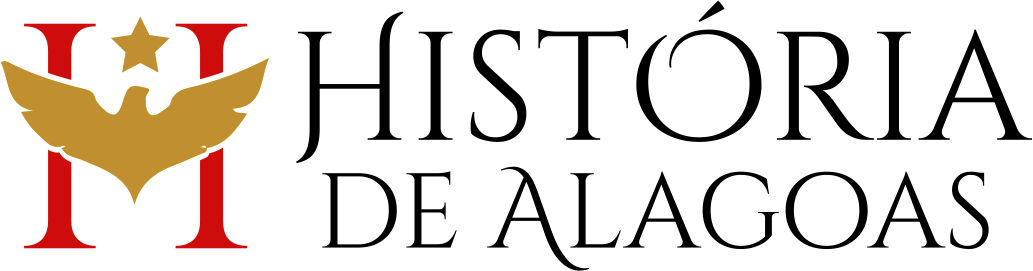







Excelente aula de história de Alagoas.
Só faltou elencar os sotaques pernambucanos e baianos, com fortes influências sulistas. E o nosso sotaque que é único, alheio às influências do sul e sudeste.
Muito bom este artigo. Vê-se que são pessoas com autoridade para falar sobre a alagoanidade. Muito me espanta este distanciamento que os alagoanos tem de sua cultura mas em se tratando de cordialidade é verdade mesmo que somos mais que outros. Vivo fora há mais de vinte anos e sempre me admiro com esta qualidade do povo porém, em má compensação, tem a violência e a cultura do matador que às vezes me assombra: como um povo tão gentil pode ser ao mesmo tempo tão violento.
Conteúdo de grande valor! Gostaria também de ver uma conversa dessa no youtube, facilitaria ainda mais a compreensão das nossas alagoanidades.