A Marinha e a Revolução Pernambucana de 1817
 A fragata NICTHEROY da Marinha Imperial, perseguindo os navios portugueses que se retiram da Bahia (aguarela do Vice-almirante Trajano Augusto de Carvalho 1830-1898)
A fragata NICTHEROY da Marinha Imperial, perseguindo os navios portugueses que se retiram da Bahia (aguarela do Vice-almirante Trajano Augusto de Carvalho 1830-1898)
Por Aldo de Sá Brito e Souza, 1º tenente da Armada [em 1928].
*Publicado no Diário da Manhã (PE) de 16 de abril de 1928. Título original: A Marinha e a Revolução de 1817.
À memória de Cleto Campelo — o mais lídimo herdeiro
das gloriosas tradições pernambucanas de 1817.
RIO, março de 1928
A calor das ideias semeadas pela filosofia dos enciclopedistas, duas grandes revoluções iam transformar a face do mundo, realizando, em parte, as aspirações geradas pela convulsão do Renascimento. As revoluções norte-americana e francesa — conflito entre a organização social surgente e o feudalismo eclipsante — impulsionaram a emancipação americana.
O século XIX raiava dominado pela espada de Napoleão, cujos exércitos espalhavam, pela Europa congregada contra o déspota, os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que já haviam ensopado em sangue o solo multiglorioso da França.
Assim começava aquela era luminosa da história da Humanidade, cujo ciclo se encerraria com o desmoronamento dos preconceitos medievais da origem divina dos reis e da escravidão para que lugar coubesse a duas grandes conquistas do espírito humano: — “a soberania popular”, na ordem política e a “liberdade de consciência”, na ordem moral.
Junot atirando, sobre a Península Ibérica, as hostes napoleônicas — quando do bloqueio continental — contra D. João VI, de quem o imperador dos franceses guardava rancor, desde a vitória nelsoniana de Aboukei, fazia transladarem-se para a colônia, já elevada a vice-reino do Brasil, o príncipe regente e sua faustosa corte.
João VI salvava o seu cetro, bem como a mais preciosa relíquia da escola de náutica que o infante D. Henrique — dado aos estudos da navegação e da cosmografia — fundara no promontório de Sagres.
Instalava-se a casa de Bragança, no Rio de Janeiro, quando a noção de pátria amadurecia entre os homens cultos do país. Felipe dos Santos e Tiradentes haviam pago os seus sonhos de liberdade; a Guerra Holandesa, mais remotamente, atestara o grau do nativismo reinante. Tinha o soberano como cabeça pensante, no ministério organizado, o conde de Linhares. Progressos materiais iam advir com alguns proveitos à antiga colônia. À abertura dos portos ao comércio — inspirada pelo visconde de Cayrú — seguiram-se a reabertura das fábricas e a vinda de artistas.
Fundavam-se as Academias de Marinha e de Belas Artes, a Escola Médico-Cirúrgica e mais melhoramentos.
Passado o entusiasmo dos festejos da chegada, em breve, mais se agravava a situação já existente entre portugueses e os filhos da terra.
O amparo e colocação de todos os lusitanos — séquito de nobres arruinados pela invasão — dando-lhes cargos e sinecuras na administração, na militança e na burocracia, vinha relegar para plano inferior os brasileiros, que de tudo eram excluídos e maltratados pela soberania dos portugueses.
Os gastos para o luxo da corte faziam escorchar de impostos as populações das capitanias. Destas, Pernambuco foi onde a animosidade levou à explosão os patriotas, que fizeram e dirigiram, contra o despotismo, a revolução de 1817.

Embarque de Dom João VI para o Brasil no dia 27 de Novembro de 1807, foto de Mário Novais de um quadro do Arquivo Municipal de Lisboa
Justiça não havia. “Era impossível existir ordem onde a justiça se punha em leilão, e aquele que mais oferecia e dava, colhia o ramo da perfídia” — expressava-se Hipólito da Costa no Correio Brasiliense (cit. em Rocha Pombo — História do Brasil).
Tanto era assim que o próprio Luís do Rêgo, dez dias após tomar a posse de sua capitania, quando reestabelecida a legalidade, escrevia a D. João VI: — “os ministros têm chegado à última corrupção, e quase não têm outro exercício que vender a justiça ou oprimir o Povo em nome da mesma justiça” — (Ms. da Biblioteca Nacional”, em nota a “O Brasil Heroico de 1817” de Alípio Bandeira).
Os homens mais esclarecidos de Pernambuco, reconhecendo a necessidade de reagir contra o estado de coisas implantado, serviram-se de sociedades secretas, maçônicas, às quais pertenciam muitos elementos do clero e militares, para tramar a rebelião.
Governando o capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro, este não dava crédito aos boatos correntes, e emissários dos conspiradores iam pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, e, até mesmo no Rio de Janeiro, iniciando os seus prosélitos no “segredo dos mistérios democráticos”.
Tal era a situação quando, a 1º de março de 1817, recebe o governador, do ouvidor Dr. José da Cruz Ferreira, denúncia formal da trama revolucionária, que iria surtir sob o pretexto do esbofeteamento de um oficial brasileiro por um português, na tradicional festa da Estância.
Procedida a sindicância efetuaram-se algumas prisões de mentores, civis e militares do movimento, que, precipitado, esteve a pique de fracassar antes de iniciado. E como sói acontecer nos períodos agitados pelas lutas civis — terreno feraz onde medram monstros morais de todo gênero — não faltou o alvitre, aliás desprezado, do coronel Alexandre Thomaz de Aquino Silveira, que à semelhança do famoso César Bórgia, desejou transportar para outro cenário, o episódio do “belo engano de Sinigaglia”.
Não fora o gesto audaz do capitão José Barros Lima — o Leão Coroado —, varando a espada o corpo do brigadeiro Manoel Joaquim Barbosa de Castro, o qual ao prendê-lo, ainda entendeu aumentar-lhe o vexame, cobrindo-o de baldões [ofensas], e estaria liquidada a revolta (6 de março).
Senhores, de fato, do Recife, após pequenas operações militares, organizaram os conspiradores o governo revolucionário sob a forma republicana e fizeram irradiar o movimento na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tentando fazê-lo na Bahia.
O governo provisório ficou assim constituído: — Domingos Theotônio Jorge, Dr. José Luiz de Mendonça, padre João Ribeiro, Manoel Corrêa de Araújo e Domingos José Martins. Foi este o governo efêmero, de dois meses e meio, que se impôs à admiração dos pósteros, pelo civismo, cordura, desprendimento, elevação política e moral.
Veio à luz a primeira imprensa pernambucana, com a publicação do manifesto conhecido pelo nome de “Preciso”.
Não cabe nos moldes estreitos de um artigo narrar os sucessos daquelas páginas áureas da história pernambucana, excelentemente descritas por monsenhor Muniz Tavares na “História da Revolução de Pernambuco em 1817”, revista e anotada pelo abalizado Oliveira Lima.
Vejamos, no entanto, qual a missão desempenhada pela Marinha naquela emergência, sendo-nos lícito, com o coração estarrecido ante tanta grandeza moral, relembrar os nomes dos heróis-mártires, que, com o sangue e atrozes sofrimentos, legaram eloquentes exemplos de amor à pátria livre.
A Marinha, ao tempo de D. João VI, era essencialmente portuguesa, vedado que era o acesso de brasileiros aos postos elevados; só podia ser elemento reacionário. Tinha como ministro o conde da Barca a quem competiu tomar as providências para abafar a rebeldia, e que falecia em junho de 1817 sendo substituído por João Paulo Bezerra de Seixas.
A força naval do reino estacionada em Recife compunha-se do brigue “Furão” e duas velhas canhoneiras desarmadas, das quais se apossou o governo revolucionário. Este adquiriu mais o brigue “Carvalho VI” (Carvalho V, segundo Muniz Tavares), a galera “S. João Baptista”, e duas escunas particulares.
Constituiu, assim, sua rudimentar marinha, entregando-lhe o comando ao coronel de milícias Luiz Francisco de Paula Cavalcanti. Diz um dos nossos historiadores navais, o comandante Lucas Boiteux, que escreveu “A Marinha de guerra brasileira nos reinados de D. João VI e D. Pedro I”, ter cabido o comando da flotilha republicana ao sexagenário piloto José Fernandes Portugal, com o posto de major, por não haver oficial de marinha para dirigi-la.
O “Carvalho VI”, encarregado de cruzar o litoral, estava sob o comando de Martins Ribeiro, sendo Luiz Ribeiro Guimarães Peixoto o imediato do piloto.
Divulgada a notícia da rebeldia, iam ser enviados os elementos para debelá-la. O conde dos Arcos, governador da Bahia, mobilizava, a custa de extorsões, uma frota composta da corveta “Carrasco”, do brigue “Mercúrio” e de uma escuna, sob as ordens do capitão-tenente Rufino Peres Baptista. A escuna dever ser o navio de nome “Audaz”, citado por Thelmudo em “A Epopeia Republicana de 1817”.
Esta esquadrilha apresenta-se em frente ao Recife a 10 de abril, estabelecendo o bloqueio e obrigando os navios republicanos à inação, ao abrigo das baterias de terra.
João VI, geralmente moleirão, desenvolve, então, inaudita atividade, ora dirigindo, em pessoa, os aprestos da esquadra no Arsenal de Marinha, ora providenciando para a organização do corpo expedicionário. Chamado de Montevidéu o chefe de divisão Rodrigo José Ferreira Lobo, partia a 2 de abril, arvorando seu pavilhão na fragata “Thetis”, e comandando mais os seguintes navios: — brigue “Benjamim” — do comando do capitão-tenente Fernando José de Mello; brigue “Aurora” — do comando do capitão de fragata José Félix Pereira de Campos; escuna “Maria Theresa” — do comando do capitão-tenente D. Nuno José de Souza Maciel Mello.
A 4 de maio, fazia de vela, do Rio, uma segunda divisão naval, ao mando do chefe de divisão Braz Caetano Barreto Pimentel, cuja insígnia era içada na nau “Vasco da Gama”. Reforçava esta divisão a fragata “Pérola”, do comando do capitão-tenente José Maria Monteiro. Acompanhavam-na dez transportes conduzindo forças: — “Sant’Iago Maior”; “Almirante”; “Harmonia”; “Feliz Eugênia”; “Marquês de Aguiar”; “Joaquim Guilherme”; “Olympia”; “Athaneo”; “Bela Americana” e “Bom-fim”. Seus comandantes eram respectivamente: — capitão-tenente José de Oliveira, segundo tenente Luiz Antônio Ribeiro, primeiro tenente Isidoro da Costa Chaves, segundo tenente Manoel Gonçalo Christovam, segundo tenente Francisco José Damásio, capitão Bernardo José Correirão, capitão-tenente José Domingues, primeiro tenente Estevam do Valle, primeiro tenente Cypriano J. Pires, segundo tenente José da Fonseca Figueiredo. (Boiteux — op. cit.)
Chegado ao Recife a 25 de abril, Rodrigo Lobo assume a chefia da esquadra, reforçando o bloqueio, e destacando pequenas unidades para a patrulha da costa das Alagoas até o Rio Grande do Norte.
Fez também farta distribuição da proclamação trazida e concitando os pernambucanos à rendição. Do que eram estas bombásticas exortações à volta ao regime da legalidade comprova o seguinte trecho da que houvera sido promulgada pelo conde dos Arcos: — “a todos (os revolucionários) é lícito atirar-lhes à espingarda como a bandidos”. Assim têm sido tratados, por seus coetâneos, os idealistas de todos os tempos — precursores e, como tal, incompreendidos.

A fragata NICTHEROY da Marinha Imperial Brasileira, perseguindo os navios portugueses que se retiram da Bahia (aquarela do vice-almirante Trajano Augusto de Carvalho 1830-1898)
Rodrigo Lobo, homem rude e conhecido pela sua covardia na campanha do Roussillon, tinha chegado ao Brasil a 30 de março de 1816, a bordo da nau “Vasco da Gama”, por ocasião do transporte da divisão dos “voluntários reais”, e para as lutas com Artigas.
A divisão bloqueadora foi mera expectante, não tendo sido tentada operação militar alguma, quer de ataque combinado com as forças de terra, quer de bombardeio ou desembarque.
Uma pequena força naval seria capaz de fazer dispersar os navios portugueses, desde que em mãos de chefe audaz intrépido e bom manobreiro. Faltava, porém, aos patriotas quem possuísse aquele “dom” marinheiro, a que alude Jurien de la Graviére, e que era a alma dos combates navais ao tempo das gáveas.
As forças de terra iam sufocar a revolução. Chegada a 1º de maio, em Vilanova, à margem direita do São Francisco, a divisão partida da Bahia, ao mando do marechal Joaquim de Mello Cogominho Lacerda, composta de dois regimentos de cavalaria e dois de infantaria, marcharia sobre Pernambuco, sem resistência.
Os revolucionários, concentrados em Porto Calvo, retiram-se para Recife só ao avistarem as forças legais. Era a debacle, acompanhada de fraqueza e defecções. Francisco de Paula, comandante das forças ao sul de Pernambuco, enfrenta, sem resultado, as tropas de Cogominho.
Formam-se batalhões patrióticos — os padres Antônio Souto Maior, João Gomes Lima, frei João Loureiro, Pedro Ivo, Francisco de Carvalho Paes de Andrade e João Alves Leite foram seus comandantes. Domingos Martins vai fazer a “guerrilha”.
Tudo inútil — não havia entre os revolucionários, em meio de tanto ideal, o gênio militar, que dispõe, improvisa, prevê e age com a firme vontade de vencer.
Domingos Martins é derrotado pelo capitão Antônio José dos Santos, às margens do rio Merepe, a 13 ou 14 de maio, e logo após, preso com o padre Souto Maior, remetidos, ambos, para bordo da corveta “Carrasco”.
Francisco de Paula, atacado por Salvador José Maciel, ajudante-geral da divisão, é batido, em 15 de maio, no engenho do Trapiche.
As forças reais iam tomar a capital; resolveram, então, os chefes do governo republicano, oferecer a Rodrigo Lobo condições honrosas para a rendição. “Submissão sem condições” — foi a resposta áspera do chefe da divisão bloqueadora.
A 19 de maio expirava o prazo do ultimatum dos patriotas ao chefe português, e antes disso os revolucionários abandonaram, carecentes de recursos, a causa abraçada. O marechal Cogominho entrava em Recife a 23.
Iam começar a cair sobre as cabeças dos criminosos de lesa-majestade, as penas da lei, sempre cruel para com os vencidos.
O padre João Ribeiro, qual Condorcet, de cujas leituras se imbuiu, vai, como filosofo dos “progressos do espírito humano”, procurar no suicídio o alívio da sua desgraça. Ele foi um daqueles “capitães espirituais”, de que fala, alhures, o admirável Carlyle, e que por conduzirem os povos na estrada pacífica das virtudes religiosas, nem por isso os desamparam quando estes trilham a via escarpada das conquistas liberais. Seu cadáver, contudo, foi profanado. Em uma daquelas belas conferências patrióticas, que formam — “O Clero e a Independência”, do arcebispo D. Duarte Leopoldo, lê-se: — “E Rodrigo Lobo, o pacificador Rodrigo Lobo, o representante da legalidade, não se correu de desdourar os seus galões, mandando afixar ao pelourinho a cabeça desse padre que, se muito havia errado, mais ainda tinha amado a pátria oprimida e espezinhada.
Fuzilados na Bahia foram: — José Ignácio de Abreu e Lima (Padre Roma), Domingos José Martins, padre Miguel Joaquim de Almeida Castro (Miguelinho) e José Luiz de Mendonça.
Os padres Roma e Miguelinho, ao par da ação praticada, testaram, ainda, aos libertadores do futuro, uma proveitosa lição de honradez — destruíram os documentos que possuíam para que outros não fossem comprometidos.
Em Recife foram enforcados: — Antônio Henrique Rebello; Padre Pedro de Souza Tenório; José de Barros Lima; Domingos Theotônio Jorge Martins Pessoa; Francisco José da Silveira; Amaro Gomes Coutinho; José Peregrino Xavier de Carvalho; padre Antônio Pereira; Ignácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.

Rendição do revolucionário José Peregrino Xavier de Carvalho. Se entregou, foi fuzilado e esquartejado. Tela de Antonio Parreiras, 1918. Palácio da Redenção, Paraíba
Sofrerão prisão maior de três anos e meio cerca de 300 patriotas, e maior de um ano, cerca de 200, os quais —
“Nem da morte medonha catadura
Infundir pode o horror a um Peito fero,
Que aos fracos tão somente a morte é dura”
como disse no verso, Antônio Carlos, um dos presos.
Dos navios da divisão de Rodrigo Lobo, o “Carrasco”, o “Mercúrio” e mais uma sumaca foram empregados no transporte dos presos, que de gargalheira e em ferros, tendo por leito o taboado alcatroado dos infectos porões, seguiram para a Bahia a fim de serem sentenciados pelo tribunal presidido pelo conde dos Arcos.
Sobre o que fez a Marinha assim se expressa o ilustrado comandante Annibal Gama, em seu esplêndido livro — “A Marinha de Guerra na pacificação interna do Brasil”: — “Desgraçadamente, o papel da marinha neste doloroso tropel de angústias, foi para ajudar a apertar o garrote que sufocou a Revolução, servindo-se para isso de um execrável verdugo da estatura de Rodrigo Lobo”.
O proceder do chefe de divisão foi desairoso — tão notória tornou-se a venalidade que o tenente Barunete, seu secretário, “no pouco tempo que ali esteve, regressou ao Rio de Janeiro com sua fortuna melhorada” — (Mello Moraes — “Brasil-Reino”, em Boteux, op. cit.)
Em que pese o juízo feio da história — as revoluções vencidas mantiveram a unidade do Brasil — os heróis de 1817 transpuseram as arcadas da imortalidade.
Evocação contrita ante os nomes de dona Bárbara de Alencar e de dona Clara de Almeida Castro, que no cárcere purgaram o amor materno e a dedicação fraternal, de par com o ardor patriótico!
Que a nossa geração — geração que apontou à nacionalidade a figura extraordinária de Luís Carlos Prestes — não deixe nunca no olvido os que no martírio plasmaram a Pátria!
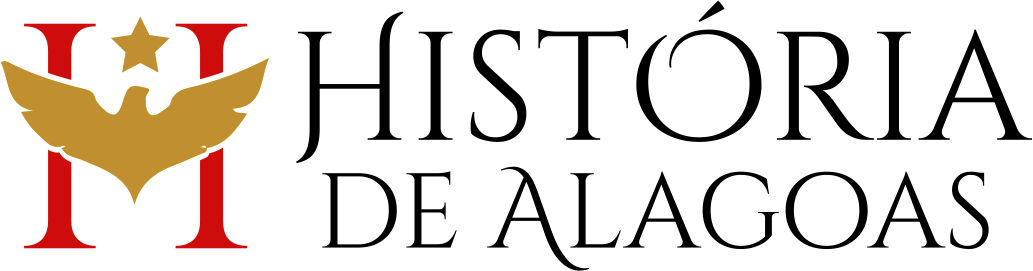




Caro Ticianelli, imensamente grato pela publicação desta matéria. Confesso que já estava esquecido da Revolução Pernambucana de 1817. Veio me proporcionar a recordação e a tristeza com o que fizeram com os nossos companheiros pernambucanos.